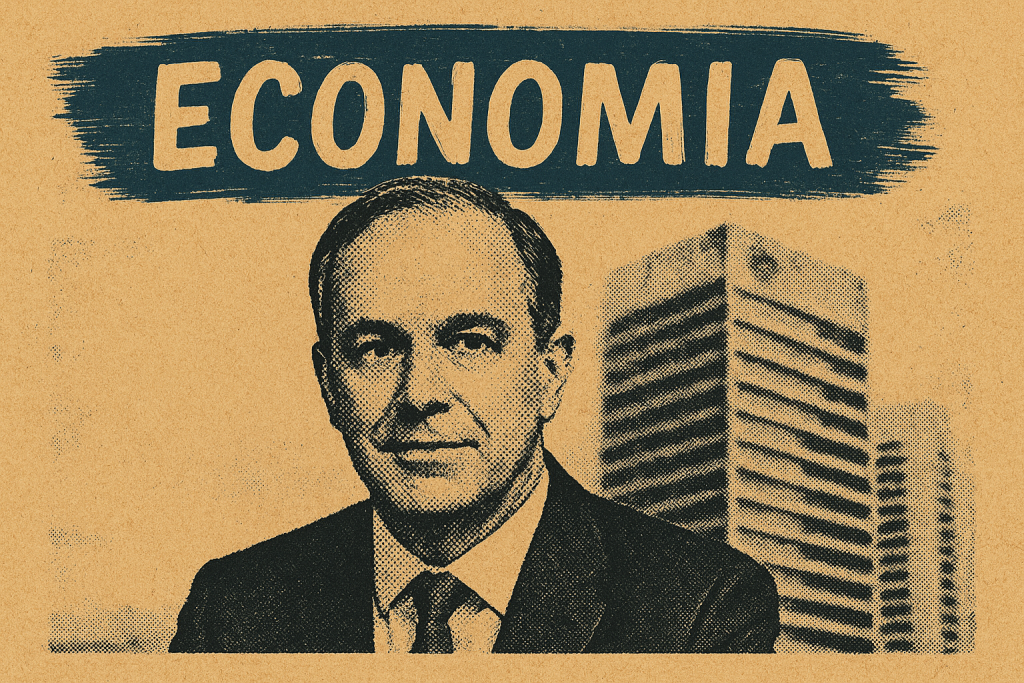SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “O seu cadastro não foi aprovado. Considere assim, beleza? A gente não precisa criar confusão. Não fizemos nada de errado contigo. Você não precisa agir dessa forma, que a gente já sabe onde isso vai terminar. Tudo bem? A gente encerra por aqui a conversa. Gostaria que você não passasse mais mensagens, beleza?”
Roberta Basílio, 37, não entendeu nada sobre a resposta do corretor de imóveis em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, a respeito da aprovação dos seus documentos para o aluguel de uma casa na cidade. Três dias depois de enviar extratos bancários e documentos pessoais, ela só havia pedido um retorno a respeito da locação. A reportagem teve acesso à cópia da conversa.
O valor do aluguel equivalia a um quinto da renda da mestre e doutora em administração de empresas, professora na graduação em administração da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), diretora do Instituto Akayrê, que presta consultoria em diversidade, equidade e inclusão. Isso sem contar a renda do marido, professor do ensino fundamental. Mas desde que chegou à imobiliária, em fevereiro deste ano, sentiu o tom hostil do corretor branco em relação a uma família negra.
“Quando ele viu o meu marido usando dreadlocks, disse que ele lembrava a praia de Trindade [no Rio], onde quem chega já sente o cheiro de maconha”, diz ela. “O corretor deixou claro que na imobiliária a aprovação da locação não se dava pela renda, mas ‘pelas pessoas’. E por isso fiquei mais chocada, porque nós somos um casal com dois filhos pequenos, temos trabalhos fixos, nenhuma restrição ao nome, renda mais do que compatível e, mesmo assim, fomos descartados sem nenhuma justificativa.”
O episódio envolvendo Roberta e sua família ilustra o quanto o preconceito de cor supera o preconceito de classe no Brasil. De acordo com o Cedra (Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais), com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apenas 23% dos que ganham mais de cinco salários mínimos no Brasil (R$ 7.590) são pretos e pardos. Os brancos somam 74,5%, enquanto cidadãos de “outra cor” são 2,5%.
Segundo a ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), pertencem à classe média alta as famílias que somam renda média mensal em torno de R$ 12,7 mil. Na classe alta, estão famílias que ganham em média R$ 26,8 mil.
“Eu falo sobre discriminação nas empresas, dou palestra sobre isso, minha tese trata disso [‘Compreendendo a socialização financeira de mulheres negras sob a teoria crítica racial’] e passo pelas mesmas situações”, diz Roberta. “Sou filha de mãe solo, meu pai morreu cedo, e minha mãe sempre me disse que venceria na vida pelo estudo. Quando fui bolsista, via certo preconceito, mas achava que era por conta da renda menor. Hoje sei que não era só por isso.”
Mesmo pertencendo aos estratos socioeconômicos mais altos, pretos e pardos vivenciam a injúria racial e o racismo, este último tipificado como crime pela lei 7.716/1989. Já a lei 14.532/2023 equiparou a injúria racial ao racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão de dois a cinco anos. A principal diferença é que a injúria racial foca na ofensa à honra de um indivíduo, enquanto o racismo atinge toda uma coletividade.
Thiago Souza, 37, gerente da administradora Terral Shopping Centers, com sede em Goiânia, sentiu o crime na própria pele. De plantão em um fim de semana, foi chamado para atender uma ocorrência no estacionamento de um dos shoppings da administradora. Chegando lá, a cliente disse que não iria tratar o assunto com ele, porque ele era “preto”.
“A senhora vai tratar o assunto comigo, porque eu sou gerente do shopping, ou vai discutir com a polícia”, respondeu o executivo, que se afirma como “não engajado” pelas causas raciais. “Fui educado para ter confiança em mim mesmo e não considerar desaforos como um problema pessoal, mas sim do outro. Mas, depois de me casar com uma mulher branca, comecei a ficar mais atento a essas questões, até para proteger nossos filhos”, diz ele, que cresceu na periferia de Brasília e se formou em administração.
Foi assim que percebeu ser o único negro em restaurantes sofisticados com exceção dos funcionários do estabelecimento. A mesma coisa nas viagens de férias com a família e nas reuniões com executivos do setor de shoppings.
O publicitário Ary Nogueira, 46, teme pelo futuro das duas filhas. “Eu me sinto vulnerável quando penso no que as aguarda, nessa sociedade que não discrimina só pelo dinheiro”, diz o carioca, ex-morador da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que começou como office boy aos 14 anos. Cresceu enfrentando o preconceito, que vinculava à sua condição socioeconômica.
“Mas um dia me mudei para Ipanema, zona sul do Rio, e comprei um carro bacana. Quando fui com a minha ex-mulher, branca, agendar uma revisão, a atendente, também branca, começou a se dirigir a ela como dona do automóvel, sendo que fui eu quem agendou o horário e tinha começado o diálogo. ‘Por que você está perguntando as coisas para mim? Ele é o dono do carro’, disse minha ex-companheira. A atendente ficou muito envergonhada e pediu desculpas. Mas é uma agressão que deixa marcas.”
Hoje ele mora em São Paulo e é diretor de criação da agência Wieden+Kennedy. Diz que na capital paulista o preconceito é menos descarado do que no Rio, mas persiste. “Moro no Alto da Lapa. Minha mãe, uma mulher negra, veio do Rio me visitar. Deixei o cadastro dela na portaria, para que pudesse entrar e sair sem complicações. Da primeira vez que saiu para ir ao mercado e voltar ao apartamento, foi barrada. Com os pais da minha mulher, brancos, nunca aconteceu isso.”