[AGÊNCIA DC NEWS]. Mais do que logradouros, algumas ruas de São Paulo se tornaram ao longo do tempo um caso à parte na geografia da cidade. Casos da 25 de Março, da São Caetano e da Barão de Paranapiacaba, que se notabilizaram por suas especializações comerciais: varejo, roupas de noivado e ouro. Essas vias e seus arredores, reconhecidos pelo apelo turístico e papel crucial na economia local, se destacam não apenas pelo volume de negócios, mas por seu simbolismo histórico e cultural. Apesar do apelo histórico, seus contos, personagens e anedotas se perderam na correria diária da cidade. Poucos sabem como elas foram criadas, quais razões as levaram a ser reconhecidas como referências ou como elas se tornaram importantes para o fomento do turismo e economia local.
Sua formação tem lastros em comum: a chegada de imigrantes, o fim da escravatura, a importância na economia de São Paulo. Quase todas ligadas, em algum momento, ao alto fluxo de passageiros que atravessavam a região em função das produções de café em destino ao porto de Santos. Tudo isso no século 19. Nesse período, a confluência desses fatores resultou no nascimento de muitos negócios pelo Centro. Segundo o historiador Robson Lacrosse, doutor em história de São Paulo e pesquisador da região central, quem “puxou o bonde do comércio local” foram os imigrantes árabes na rua 25 de Março – que completa 160 anos em 2025.
Antes de 1865, quando ganhou esta alcunha, a rua teve vários outros nomes. Nasceu como rua Várzea do Glicério no começo do século, em um espaço de tempo em que quase não há registro histórico. Em 1832, pela proximidade com o rio Tamanduateí, perto do Beco das Sete Voltas, se tornou rua das Sete Voltas. Em 1850, quando o Tamanduateí foi retificado, uma estrutura de rua ficou mais evidente, e seu nome passou a ser rua de Baixo, já que passou a ligar a Ponte do Carmo ao Porto de São Bento. Dois anos depois, passou a ser chamada de rua Baixa de São Bento, pois se localizava abaixo do Mosteiro de São Bento.

Nessa altura, uma figura peculiar começou a ser vista com alguma frequência na região. Chamado de mascates, estas pessoas começaram a chamar atenção da elite brasileira associada ao Café e, em 1890, o primeiro governador do Estado de São Paulo, Prudente de Moraes, pediu que eles fossem descritos pela elite intelectual da cidade, neste momento concentrada na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A resposta veio em uma carta, com mais de 35 páginas e assinada também por jesuítas, disponível na Biblioteca Nacional.
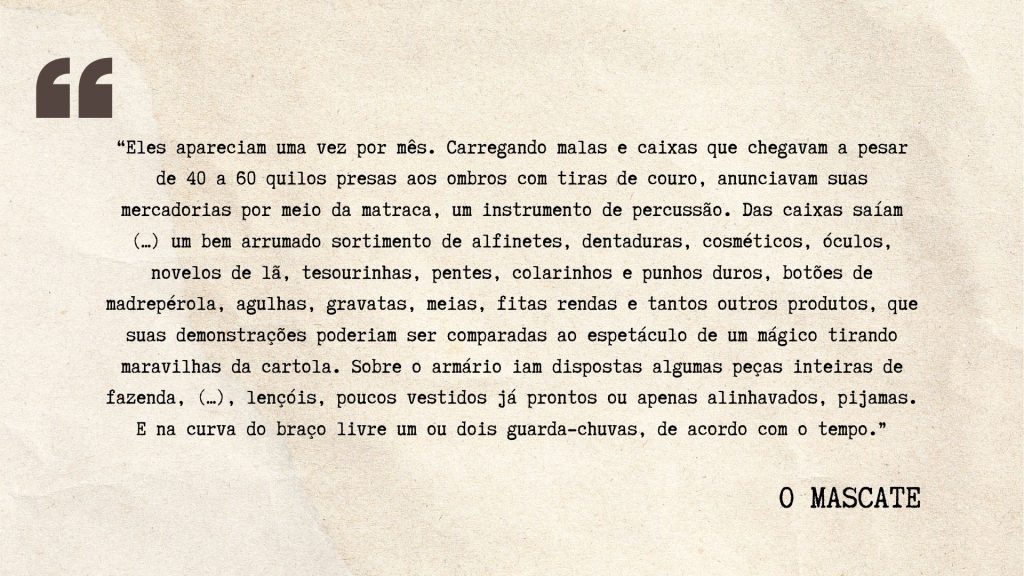
PASSADO COMERCIANTE – A movimentação comercial na região começou perto de 1880, mas ganhou força em 1892, quando foi inaugurado o porto de Santos. Com ele, houve um grande fluxo de imigrantes sírios e libaneses desembarcando em São Paulo. Muitos chegaram com alguns bens de seu país de origem e, ao se fixar na 25 de Março, conseguiram obter mais mercadorias e viver essencialmente do comércio ambulante. Recebiam mercadorias a crédito e iam para o interior ou subúrbios da cidade para vender os produtos.
Não precisa ser bom jornalista trabalhando no centro. Só precisa ter bons olhos

Rose Koraicho, autora do livro 25 de Março – Memória da Rua dos Árabes (2004), descreve com detalhes este processo. “A Várzea do Carmo dominava a paisagem da região: era alagadiça e, com o seu loteamento, vários compradores da colônia árabe aproveitaram os preços baixos e construíram suas residências e lojas na 25 de Março”, disse no livro. O caminho era sempre o mesmo, as mercadorias comercializadas na 25 de Março, em sua maioria tecidos, vestuários e armarinhos. Iam de carroça até o Ipiranga e por meio fluvial até a rua 25 de Março. “Havia ali um porto, o Porto Geral, que hoje dá nome à Ladeira Porto Geral”, afirmou. Com a popularidade da região, não demorou para que aumentasse a demanda. Logo as mercadorias passaram a ser enviadas para a serra pela estrada de ferro Santos-Jundiaí. Havia também os clientes que vinham diretamente de trem para comprar suas mercadorias. O mesmo valia para os comerciantes e clientes que rumavam ao interior.
Com o comércio se consolidando, em 1920 a rua já era considerada uma dos principais polos de comércio da América Latina. Isso porque o aumento da urbanização e do desenvolvimento econômico aceleraram seu prestígio e importância. Segundo Tânia Gerbi Veiga, historiadora da PUC e doutoranda na Universidade de Lisboa, a partir da década de 1950 uma nova onda de imigrantes começou a desembarcar em São Paulo: os italianos fugidos da 2ª Guerra Mundial. Com eles, mais oportunidades de negócios – e mais clientes. Antes disso, a região já concentrava as atividades administrativas, comerciais e de serviços de bairros adjacentes, como Mooca, Lapa e Barra Funda. Sob essas fundações, o comércio passou a ser orgânico.

(Biblioteca Nacional/Acervo)
Foi nesse período, inclusive, que nasceram as primeiras megalojas e galerias. “O mesmo vale para as ruas São Caetano e a Barão de Paranapiacaba. Foi uma expansão natural, seguindo o fluxo da circulação de pessoas”, disse a professora. Ela afirma também que foi este movimento comercial da região central que fez a elite econômica se deslocar para o cinturão do Centro expandido. E bairros como Santa Cecilia, Higienópolis, Perdizes, Jardins, Santana e Paraíso começaram a ser construídos.
RUA DAS NOIVAS – Ainda mais antiga que a 25 de Março é a rua São Caetano, que tem seu primeiro registro histórico em 1802, quando foi aberta para a construção do Hospital dos Lázaros pelo então governador da Capitania de São Paulo, o capitão-general Antônio José de Franca e Horta. Foi o primeiro hospital de São Paulo dedicado a cuidar das pessoas portadoras de hanseníase. O espaço escolhido ficava perto do Convento da Luz e sua administração estava sob os cuidados da Santa Casa. O espaço ficou conhecido como Hospital dos Lázaros. Durante muitos anos a rua não possuía nome, e permaneceu mais parecida com uma trilha.

(Biblioteca Nacional)
O primeiro registro de nome foi rua Campos da Luz, em 1837, mas nunca chegou a se popularizar. Em 1877, a rua era conhecida como Rua dos Lázaros e, posteriormente, em 1881, virou travessa do Seminário, em alusão ao Convento da Luz. Neste mesmo ano, o arcipreste João Jacinto Gonçalves de Andrade, dono de alguns terrenos na região, fez o alinhamento da rua e a interligação de acessos onde hoje ficam as ruas São Lázaro e Monsenhor Andrade. Foi por essa intervenção, feita com recursos da Igreja Católica, que o arcipreste requereu à Câmara que o local fosse denominado como “Rua de Sam Caetano”, proposta aceita no dia 28 de março de 1881. Em 1897, com a urbanização da rua e maior fluxo de pessoas, o Hospital dos Lázaros foi fechado permanentemente, sob alegação de que a proximidade com outras pessoas poderia resultar na ampliação da doença, que se espalha por vias aéreas.
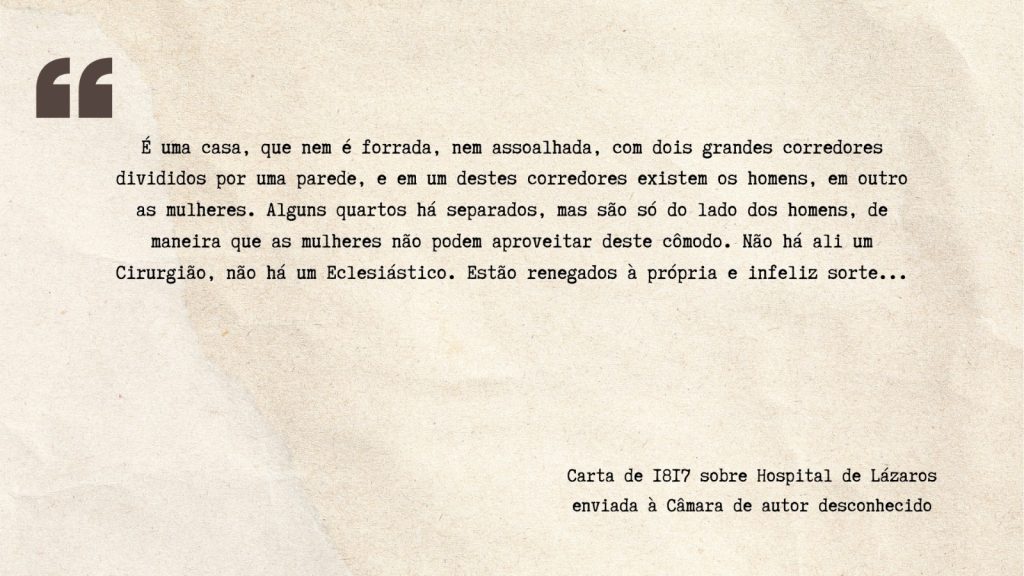
Nos anos 1950, com a consolidação da comunidade italiana na região, a demanda por roupas para festas como casamento começou a crescer. Segundo o historiador Robson Lacrosse, a relevância da igreja também foi determinante para o aumento da procura por costureiras no Centro, e a tradição da rua São Caetano foi se formando de modo orgânico. “A concorrência foi crescendo de modo natural, e se perpetuando pelas gerações”, disse. E assim surgiu aquela que ficou conhecida como “rua das noivas“.
BARÃO DE PARANAPIACABA – A rua Barão de Paranapiacaba é outra que possui uma coleção de nomes. Já foi Travessa do Padre Capão no início do século 19, pela proximidade com a Igreja da Sé. Também foi conhecida como Rua da Mexia ou do Mexim, nos anos 1820. Seu nome mais popular, no entanto, foi Rua das Sete Casas, na década de 1845, pelo número exato de residências no local. Em 1865, por proposta do vereador Malaquias Rogério de Salles Guerra, se tornou Travessa da Caixa D’Água, em menção à antiga caixa d’água ficava na esquina com a rua Quintino Bocaiúva. Em 1907, por fim, o vereador Carlos Garcia solicitou a alteração desta denominação para Barão de Paranapiacaba e justificou em seu pedido: “Trata-se de um velho paulista, conhecido, tradicional nas letras brasileiras”.
A pessoa citada por Garcia era João Cardoso de Menezes e Souza (Barão de Paranapiacaba) que nasceu em Santos no dia 25/04/1827 e faleceu aos 02/02/1915. Formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco em 1848. Exerceu, mais tarde, a advocacia na cidade do Rio de Janeiro. Em 1868 foi diretor do Banco do Brasil. Entrando para a vida política, foi eleito Deputado pela Província de Goiás. Literato, é considerado um dos precursores de romantismo no Brasil. Juntamente com José de Alencar, foi um dos criadores do Teatro Nacional.
Mas, por que justamente esta rua se tornou conhecida por vender ouro? A resposta padrão é que a partir dos anos 1950 a travessa começou a concentrar joalherias do centro, processo que ganhou um impulso em 1976, quando o prefeito Olavo Setúbal decidiu transformar algumas ruas da cidade em espaços “temáticos”. Nessa época muitos joalheiros e ourives se mudaram para a região. Os tempos áureos, no entanto, não duraram tanto. Ao final dos anos 1990, com a degradação do centro, as pomposas lojas de venda de ouro deram lugar para estabelecimento com grades e uma sensação de insegurança trazida pela marginalização do centro.
Essa, por si só, já seria uma explicação plausível sobre a origem no nome. Mas podemos ir além. A história menos conhecida sobre a rua foi encontrada no acervo do Arquivo Histórico Municipal, nas cartas à Portugal enviadas por jesuítas, ainda no período colonial. Por volta do século 18 havia uma tentativa ainda pouco organizada de minerar ouro em São Paulo. Apesar de a região não abrigar nenhuma jazida de ouro relevante, desde o século 17 especulava-se a possibilidade.
Como havia na região muitos comerciantes, mascates e andarilhos a fama se popularizou e, ao invés de se tornar um polo para mineração, acabou se tornando um ponto de encontro de venda e troca de dicas de jazidas já descobertas em São Paulo, em locais como Guarulhos, Mogi das Cruzes e até o Pico do Jaraguá.
Mas histórias de ouro também dão brilho à rua. Uma delas, inclusive, foi descrita por Afonso Schmidt (1890-1964), jornalista e cronista do interior de São Paulo, que ficou famoso por sua atuação em jornais da capital e suas crônicas sobre o Centro. Uma vez, em 1940, afirmou: “Não precisa ser bom jornalista trabalhando no centro. Só precisa ter bons olhos”. Uma de suas mais célebres histórias é de 1946.
Confira abaixo o mapa das ruas temáticas:
Segundo ele, nos anos 1850 existia na rua Barão de Paranapiacaba uma república de estudantes. Naquele tempo, uma epidemia de tifo na causou várias vítimas. Eram raros os medicamentos, e poucos se aventuravam a tratar dos doentes.
Até que em uma certa manhã foi vista caminhando pela rua uma sinhá, em torno dos seus 50 anos, que àquela época residia num palacete da então rua Alegre, atual Brigadeiro Tobias. O destino dela era uma república da rua das Sete Casas, como ainda era conhecida a rua. Ela foi vista entrando às pressas, segurando apenas um pequeno saco de papel de conteúdo misterioso. Não demorou para que corresse a informação de que ela teria ido lá após ser avisada que havia um estudante doente que morreria por falta de cuidados.
Segundo o cronista, a tal senhora providenciou remédios e passou três dias e três noites cuidando do estudante. No boca a boca, a informação era que a senhora não sabia quem era o jovem adoentado e que não era exatamente incomum que ela se prestasse ao papel de suporte médico para alguns cidadãos do Centro. O nome da Sinhá? Domitila. Sim, a tão popular e polêmica Marquesa de Santos, aquela do enrosco com Dom Pedro I. E o estudante? Bom, seu nome era Affonso Celso de Assis Figueiredo, popularmente conhecido como Visconde de Ouro Preto – sim, aquele mesmo presidente do conselho de ministros do Brasil, que foi deposto em 1889, na Proclamação da República. Não. Não é só de nome que sobrevive uma rua.